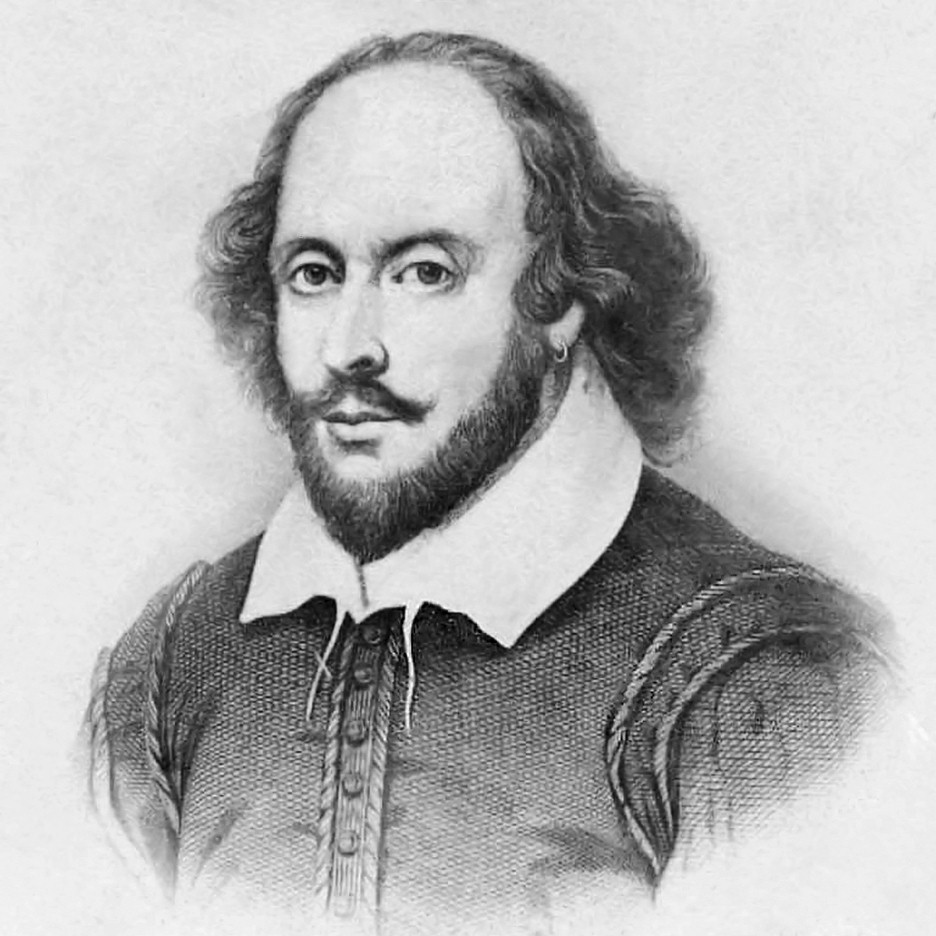Ariano
Suassuna (1927-2014) representava um país implausível e, não obstante, real. Simples,
fraterno e profundo. O melhor Brasil entre os tantos brasis de que somos feitos.
Romancista, poeta e dramaturgo, seu discurso era baseado em nosso passado ibérico.
Numa espécie de tradição medieval que ainda resiste, sobretudo por nossos
interiores – em cordéis, cantadorias, circos, mamulengos, palhaços, danças e artes
populares.
Esse
permanente compromisso com a gente mais humilde se via na sua própria figura – quase um Quixote, alto e magro. E que se
revelava mesmo no vestir. O fardão com que tomou posse na Academia Brasileira
de Letras não era feito de lã, como os outros. Mas de brim. E os adereços em
ouro, que o orna, foi substituído por aplicações de fantasias. Bordados por costureiras
do bloco de carnaval Pás Douradas.
Ariano
era um erudito, sem dúvida. Alguém que amava perdidamente Camões, Dante,
Dostoyevsky. Apaixonado pela figura mítica de Dom Sebastião e os sonhos de
império e grandeza por eles representados. Mas que falava com a linguagem de
seu povo, transplantados para seus personagens. Era especial sobretudo por
isso. João Grilo (do Auto da Compadecida),
por exemplo, vivia repetindo que “a esperteza é a coragem dos pobres”.
Ariano
revelou, desde cedo, obcessão por uma identidade nacional que, até hoje, nos
oprime. A partir da bem conhecida fórmula de Joaquim Nabuco: “De um lado do mar
sente-se a ausência do mundo; do outro, a ausência do país”. A propósito Carlos
Drummond de Andrade, no seu Hino Nacional,
disse: “Precisamos adorar o Brasil/ Se bem que seja difícil caber tanto oceano
e tanta solidão/ No pobre coração já cheio de compromissos”. Só que, em Ariano,
esse Brasil brasileiro surgia naturalmente. Como resposta para todas as suas preces.
Tanto que, para ele, “globalização é um nome novo para o colonialismo”.
Seu
pai, João Suassuna, era presidente (hoje, seria governador) do Estado da
Paraíba. Foi sucedido por João Pessoa, que veio das várzeas do Paraíba do Norte
para se tornar o estopim da Revolução de
30 – que sepultaria a Primeira
República. O mesmo que acabou assassinado pelo advogado João Dantas, um
aparentado dos Suassuna. Essa relação familiar levou a que o pai de Ariano
também acabasse assassinado, memórias de um tempo em que a política brasileira
se resolvia na bala. Ocorre que sua mãe, dona Ritinha (Rita de Cosmo Vilar
Suassuna), jamais permitiu que a vingança manchasse ainda mais de sangue a
família. E foi criar sua prole bem longe. Entre bodes. Na distante Taperoá,
fronteira entre a seca e o fim do mundo. Uma cidade que tinha só duas ruas. Em
honra desse pai depois escreveu esse que é um de nossos mais belos sonetos (Aqui morava um Rei):
Aqui
morava um rei quando eu menino
Vestia ouro e castanho no gibão,
Pedra da Sorte sobre meu Destino,
Pulsava junto ao meu, seu coração.
Para mim, o seu cantar era Divino,
Vestia ouro e castanho no gibão,
Pedra da Sorte sobre meu Destino,
Pulsava junto ao meu, seu coração.
Para mim, o seu cantar era Divino,
Quando
ao som da viola e do bordão,
Cantava com voz rouca, o Desatino,
O Sangue, o riso e as mortes do Sertão.
Mas mataram meu pai. Desde esse dia
Eu me vi, como cego sem meu guia
Que se foi para o Sol, transfigurado.
Sua efígie me queima. Eu sou a presa.
Ele, a brasa que impele ao Fogo acesa
Espada de Ouro em pasto ensanguentado.
Cantava com voz rouca, o Desatino,
O Sangue, o riso e as mortes do Sertão.
Mas mataram meu pai. Desde esse dia
Eu me vi, como cego sem meu guia
Que se foi para o Sol, transfigurado.
Sua efígie me queima. Eu sou a presa.
Ele, a brasa que impele ao Fogo acesa
Espada de Ouro em pasto ensanguentado.
Conto
duas pequenas histórias para tentar dizer como era, entre os amigos. E começo por
lembrar que, como sabem todos que o conheceram, não gostava de modernismos. Em um
desses computadores com editor de textos, escreveu seu primeiro nome: “Ariano”.
E o computador aceitou. Ainda bem. Depois escreveu seus sobrenomes. Primeiro “Vilar”.
O computador recusou e sugeriu “Vilão”. Após o que escreveu “Suassuna”. O
computador novamente rejeitou; e, talvez por conta dos muitos esses digitados,
sugeriu “Assassino”. Ariano Vilão Assassino. Prova provada de que os
computadores, dizia, é que não gostavam dele. Outra história é sua explicação
para não ser vegetariano: “Cavalo vive hoje os mesmos 20 anos do começo da
civilização. E só come folhas. Enquanto o homem, que naquele tempo vivia os
mesmos 20 anos, hoje vive mais de 100. Comendo carne”.
Ariano
foi um homem e um personagem, defensor intransigente de nossas tradições mais
antigas, a quem por malandragem chamava de... Ariano Suassuna. Nas
aulas-espetáculo, assim designava conferências que dava pelo país, não era bem
o homem que falava. Era o personagem. E quem visse o rosto da meninada que lhe
assistia, ouvindo lições de Brasil dadas por um dos poucos brasileiros que
tinha méritos e autoridade para fazê-lo, se comovia. O público era, quase todo,
composto por jovens que ali desejavam conhecer um pouco do Brasil apenas
pressentido. Um Brasil distante das Pizzas
Huts e dos cheeseburgers MacDonald’s.
Um Brasil verdadeiro, ainda rude e ibérico, que não renunciou a sua identidade
como povo. E, naquela meninada, se via fascinação. Uma como que celebração do
país que corre silencioso em nossas veias. Como se alguém viesse de longe para
ensinar um pouco do Brasil a brasileiros que, mesmo morando por aqui, sentem
saudades do Brasil. Porque o personagem não cabia no corpo magro de seu
criador. Era maior. Era a própria alma do seu povo.
Com Ariano, tudo acaba convertido em algo alegre. Reproduzindo as farsas que tanto sucesso fizeram na literatura portuguesa do século XIX. No riso de quem o ouvia se revelando, pouco a pouco, o temperamento especial de quem nasceu em nossa civilização de terraços. Veja-se o que deu quando, mais tarde, quis voltar ao Palácio do Governo da Paraíba, em que nasceu. Sem gravata, algo que nunca usou. Gravata não casa bem com alpercatas. Dando-se que o policial da guarda não deixou. O traje era inconveniente, segundo ele. Só para ouvir Ariano dizer: “Engraçado, na primeira vez que entrei aqui, estava nu e ninguém reclamou”. Como se fosse uma ironia do destino esse homem, de vida simples, foi velado não num “palácio à beira do lago, longe da vida, alheio ao mundo”, como sonhado por Fernando Pessoa (em O marinheiro). Mas noutro Palácio, o do Governo de Pernambuco.
Com Ariano, tudo acaba convertido em algo alegre. Reproduzindo as farsas que tanto sucesso fizeram na literatura portuguesa do século XIX. No riso de quem o ouvia se revelando, pouco a pouco, o temperamento especial de quem nasceu em nossa civilização de terraços. Veja-se o que deu quando, mais tarde, quis voltar ao Palácio do Governo da Paraíba, em que nasceu. Sem gravata, algo que nunca usou. Gravata não casa bem com alpercatas. Dando-se que o policial da guarda não deixou. O traje era inconveniente, segundo ele. Só para ouvir Ariano dizer: “Engraçado, na primeira vez que entrei aqui, estava nu e ninguém reclamou”. Como se fosse uma ironia do destino esse homem, de vida simples, foi velado não num “palácio à beira do lago, longe da vida, alheio ao mundo”, como sonhado por Fernando Pessoa (em O marinheiro). Mas noutro Palácio, o do Governo de Pernambuco.
Em
frente à Velha Caetana, como
carinhosamente chamava a Indesejada das Gentes
(aproveitando título de um conto de Eça de Queiroz), dizia: “Tenho duas armas
para lutar contra o desespero e a tristeza: o riso a cavalo e o galope do
sonho. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo
todo”. Seu velório foi marcado pela presença de cidadãos comuns, em filas
intermináveis, que lhe foram dar um último abraço. Nunca se viu nada igual, no
Recife. Multidões prestando homenagem a um escritor. Alguém que nunca teve
poder, salvo a força de suas palavras. Alguém que nunca saiu do Brasil, por
simplesmente não querer conhecer o mundo. Mas que nunca viveu no Brasil de
nossas elites, posto que seu Brasil era outro. O dos injustiçados.
Nossos
homens públicos sonham com um Brasil longínquo; enquanto o personagem sabe que
ele está por baixo de nossos pés. Neles, a crença no país soa como um gesto de
utilitarismo político; e o personagem nem precisa falar, que sua fé se traduz
no trajar coerente, no sotaque manso e arrastado, no brilho do olhar. Por tudo
isso é justo declarar, a quem interessar possa, que esse cavaleiro andante é o
melhor intérprete da “língua errada do povo, língua certa do povo”, como dizia
seu amigo e poeta Manuel Bandeira. Porque ele, mais que outro qualquer, e
usando palavras com que encerrará romance que está para ser publicado (O jumento sedutor), está sempre disposto
a “erguer a fronte, honrar o chão da Raça e entrar, como no sol, a terra
estranha”. Saudades de Ariano.
José Paulo
Cavalcanti Filho
Para o Jornal de
Letras (Lisboa).