A CONTEMPORANEIDADE DE PROUST



A modernidade literária está apoiada sobre três grandes pilares. A primeira fundação foi feita por James Joyce, a segunda por Kafka e a última por Marcel Proust. Nada em literatura nasce do nada, mesmo que a escritura de um Joyce possa parecer uma ruptura enorme e definitiva com a tradição. Ora, a primeira reconciliação joyciana com a tradição vem com seu livro de contos de recorte nitidamente realista, a segunda com a introdução no Retrato do artista quando jovem das questões ocidentais da cristandade e, por fim, o seu Ulisses é paródico com a obra emblemática do início da literatura e da cultura ocidental: A Odisséia, de Homero. Caso não se queira aprofundar e ver outras tradições: a língua irlandesa, a história da Irlanda, a apropriação que faz da técnica do stream of consciousness bebida em Édouard Dujardin, dos jogos de palavras de Sterne e Lewis Carroll. Kafka, por sua vez, é devedor de uma literatura do fantástico do século XIX, do estranho, do maravilhoso de todos os tempos desde Homero e As mil e uma noites, da literatura gótica e, também entre outros, do absurdo de Jarry, de Nerval e outros. E, no nosso caso, Proust pertence à grande família dos intimistas, solipsistas, introspectivos de todos os tempos, seja o romance epistolar de Relações Perigosas, de Laclos, seja o Madame Bovary, que abre espaço para a perquirição não só da intimidade doméstica, mas também da mente humana.
Mesmo sabendo a importância de outras vanguardas do século XX como Virginia Woolf, Faulkner (que pertence à linhagem de Joyce), e muitos outros mais, decidimos ficar com os três escritores mencionados acima como pilares também porque se mostram como exemplos de escritura unindo o tradicional com a renovação e, mais ainda, apontando para um futuro literário. James Joyce, com seu Finnegans Wake, poderia levar a literatura ao silêncio ou a um beco sem saída, onde o romance ou a prosa se diluísse num hermetismo tamanho que, junto a uma experimentação desabrida, conduziria a uma encruzilhada sem leitor. Mas o Joyce que permanece e que impulsionou seus seguidores estão mais próximos do Ulisses que do Finnegans Wake. Por sua vez, Kafka tem importância visceral ao apontar o absurdo na burocracia, na justiça, nas relações sociais e até mesmo na perplexidade frente à vida. O fantástico em Kafka é o fantasma do cotidiano e das relações sociais (e de poder) elevados à categoria de trama da prosa. O certo é que todos eles refletem uma reação ao mundo mecanizado e massificado, como observou Zéraffa. Não mais a massa operária de Zola, não mais o épico de Tolstoi. Agora a saga e o mundo público é o espaço do íntimo, do privado, do particular. E nesta estrutura tripartite vem se incorporar Marcel Proust com suas preocupações sobre o Tempo e a Memória agindo sobre o indivíduo.
Os três pilares vão gerar segmentos distintos na história da modernidade literária do século XX. Dos epígonos de Joyce, criados a partir da aporia e antinomia de Finnegans Wake, não se pode dizer que foi produzido efeito mais permanente a não ser nas vanguardas que aceleraram o processo de descontinuidade da sintaxe da prosa. Mas, Joyce legou a várias gerações o seu stream of consciousness, o jogo de palavras, a fragmentação e o uso de diversos discursos narrativos, a paródia corrosiva, a ironia das mais ácidas. Os “herdeiros” joycianos são inúmeros em todas as literaturas (desde o cubano Cabrera Infante até o nosso Guimarães Rosa, entre uma lista imensa a ser enumerada). Vindo de Kafka, os seguidores apreenderam o mundo do absurdo e o absurdo do mundo transfigurados em prosa que aqui e ali tomaram vários nomes, entre eles, o tão divulgado realismo mágico ou o universo desconcertante de narradores de diversas estirpes.
E quanto a Proust? Embora alguns poucos críticos de Proust o tenham visto como o último dos grandes romancistas do séc. XIX, o autor de Em busca do tempo perdido produziu uma obra que fermentou enorme gama de escritores que dele beberam sua contribuição fundamental para a modernidade literária. A fim de que se entenda o que foi herdado, será preciso inicialmente compreender Proust.
Em busca do tempo perdido poderia parecer ao leitor médio um romance sobre a frivolidade da aristocracia francesa. Ora, o que interessaria ao leitor desatento o enredo escasso, os encontros entre nobres, as intrigas de princesas, marquesas e membros da alta burguesia refinada, numa época já de grandes avanços no pensamento social como, entre outros, o marxismo e as expressões romanescas, na França e fora dela, que tratavam da classe média e da classe operária? Que interesse haveria naquilo que o próprio Proust chamou de memória involuntária, não consciente, que afloraria quando menos se espera? Ou nos seus avanços e recuos e sua construção em forma de catedral?
Com seu estilo lento, de longuíssimas frases, de sintaxe ordenada, Proust poderia parecer superado pelos seus outros dois companheiros, Joyce e Kafka, se não alertasse o leitor para uma literatura que preza o detalhe, a angústia de estar no mundo, a perspicácia de debruçar-se sobre o tempo com a delicadeza de romancista e a inquietação de filósofo. Num tempo de mudanças bruscas e vertiginosas, Proust vem nos mostrar que a natureza humana constrói-se aos poucos e que as exterioridades patéticas apenas projetam o mecanismo tosco do reino animal ao qual pertencemos.
Proust erige um humanismo particular, não da forma convencional como conhecemos, nem mesmo na espécie de gnose do ser (falsamente confundida com um projeto de autoconhecimento). O humanismo proustiano é a consciência de uma individualidade contra a massificação (a vanguarda européia era uma renúncia ao mundo da série que, surpreendentemente, ela enaltecia, quando, no fundo, rejeitava-o), do humanismo contra o Capital (a aristocracia é um refúgio do eu – expressão muito usada por ele – contra as relações mercantilizadas).
Outro procedimento que o insere como um dos pais da modernidade é o uso sistemático e premeditado da digressão. A digressão é seu grande potencial e o diferencia da literatura realista que execrava justamente a incômoda interferência do narrador. Proust não a inventou, certamente. Um dos grandes mestres da digressão no passado fora Fielding, com seu Tom Jones, onde deixava a trama para inserir longos comentários. Esta atitude estética de Proust é mais que um mecanismo estilístico: aponta para o romance como um ato de inteligência, uma epistemologia. Proust agora quer reflexão, num mundo perdido em banalidades e cada vez mais assombrado pelo fantasma das aparências.
Proust tornou o que era periférico em centro: a digressão passou a ser a “trama”. A trama rarefeita é proposital: o mundo agitado agora é de dentro do narrador. A lentidão narrativa aliada às poucas ações é uma recusa ao romance facilmente digerido. O freio nas peripécias representa que elas agora pertencem ao reino da massificação que cumprem até mesmo melhor a proposta. O romance cresce em robustez e profundidade que outras artes narrativas não podem oferecer.
A crítica sobre Proust estudou, entre outros aspectos, alguns dos seus procedimentos como o impressionismo (a tentação de unir vida e obra seduz vários críticos) e seu relativismo (Edmund Wilson), a durée, as digressões de contiguïté e de resssemblance (Bayard, em Le hors-sujet), as metáforas baseadas em pintura e música, a análise não do passado, mas da memória (Jean-François Revel), o discurso indireto que “conserta a linguagem comum, os defeitos da linguagem” (Genette), as diferentes camadas temporais (Poulet), a narração como ato de leitura (Paul de Man), a crítica social do esnobe (Benjamin), o efeito do patético (Barthes) e a biografia literária (Citati).
Confrontado com o futuro mesmo do romance francês dos anos 50 (o nouveau-roman), Proust poderia parecer prolixo e não ser tudo aquilo que a vanguarda do meio do século pregava: impessoalidade, limpeza, literatura do distante e do olhar. Pura aparência: Proust contaminava o nouveau-roman que, apesar da retórica do seu teórico Robbe-Grillet, era uma literatura subjetiva e obsessiva. Obsessiva como Proust em relação à mirada dada a seu objeto de estudo: o homem. Leia-se, por exemplo, O Bonde, de Claude Simon, para perceber o andar circular, o mesmo objeto reiterativo, a longa digressão, a propensão à análise do ensaio. Aquilo que poderia parecer retórica excessiva é em Proust uma atitude perante o mundo: a reiteração, a circularidade, o espaço sufocante.
Homossexual, “doente dos nervos”, edipiano, Proust foi um dos defensores mais ardorosos da divisão entre autor e narrador. Para ele, ao contrário de Saint-Beuve, que advogava o estudo da biografia do autor para entendimento da obra, o self do autor não é o mesmo da figura ficcional do narrador. Dos três mitos da modernidade literária, Proust é o mais palatável e que faz com mais suavidade a passagem do romance do séc. XIX para a vanguarda do séc. XX, além de poder ser lido sem dificuldade pelo leitor médio, o que não ocorre com Kafka nem com Joyce. O poder de transgressão de Proust é mais sutil e menos explícito, embora o leitor médio logo perceba que está diante de uma obra que ele estilisticamente não se defronta de forma recorrente.
Proust ainda é contemporâneo, em termos de escrita e de leitura, em virtude da inanição da trama, dos personagens aprisionados no filtro do narrador, personagens estes que fulgem brilhantemente para depois desaparecer ou ocupar um canto obscuro, ou ainda em razão do tema da perversão – tudo atualiza Proust. É ainda pertinente a invocação do ensaio (variante da digressão) que Proust não inaugura, mas utiliza-o de maneira magistral como na visita ao pintor, em Balbec, onde expõe sua concepção de pintura depois do aparecimento da fotografia. E mais ainda: Proust coloca em cena o narrador como personagem, não o narrador memorialista, mas aquele que cria a dilatação do eu, expande-a e, com a escrita, abarca mundos nunca antes narrados.
Em meio a esta prosa deliquescente e voluptuosa, Proust faz o elogio da razão. O texto é organizado e lúcido – crítico mesmo – até nos poucos relatos de sonho. O mundo de Proust poderá ser anunciado como impressionista ou qualquer termo que se queira dar a partir da subjetividade, mas não se há de negar a necessidade de análise, inclusive do obscuro inconsciente e do momento fugidio – grande corruptor que só é apreendido pela precisa consciência. Proust é o escritor não de um mundo em transformação, mas de um mundo em transformação cuja mente quer fixá-lo em sua beleza. A Beleza é outro grande tema, junto com os já relatados. Viver representa conscientizar-se da Beleza da emoção, do esquivo, da surpresa, do pasmo frente ao desconhecido, da arte e da cultura como ninhos da verdade, do romance como refutação da mesquinhez, do transitório e da impossibilidade de apreender o movimento que, em última instância, é a vida.
Em Proust, há uma falência da linguagem, apesar da flânerie do verbo contida em mais de 3 mil páginas. Nomear é muito pouco para resgatar ou mimetizar a realidade. É preciso reconstruir também através da linguagem, por isso as metáforas desconcertantes e desdobradas (longas, aproximando o prosaico do sublime e vice-versa), quando o autor cria a realidade da linguagem, onde nada se perde. E nós, leitores, passamos a fazer parte deste espectro que, em si mesmo, é um universo que não se basta, mas nos faz imergir na existência de um mundo de pensamentos que, ao fim e ao cabo, é a realidade última do leitor. Para nós, leitores, ler Proust não é tempo perdido, mas tempo recuperado. (RCF)
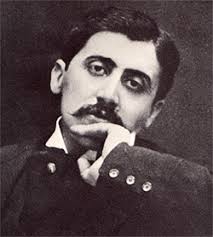
(box)
Marcel Proust (1871-1922) escreveu, durante 15 anos (1908-1922) basicamente um só livro, Em busca do tempo perdido, dividido em sete volumes (No caminho de Swann, À sombra das moças em flor, O caminho de Guermantes, Sodoma e Gomorra, A prisioneira, A fugitiva e O tempo recuperado). Antes, estreou com um livro de miscelâneas (contos, crônicas, poemas em prosa) intitulado Os prazeres e os dias (1896). Os outros dois livros são Jean Santeuil e Contra Saint-Beuve, ambos inacabados e só publicados na década de 50. Várias cenas desses livros foram reproduzidas em Em busca. O último volume de À procura, O tempo recuperado, publicado postumamente, Proust o deixou sem revisão, o que demandou “reconstruir” o livro. (RCF)
imagem retirada da internet: pintura degas, proust


A modernidade literária está apoiada sobre três grandes pilares. A primeira fundação foi feita por James Joyce, a segunda por Kafka e a última por Marcel Proust. Nada em literatura nasce do nada, mesmo que a escritura de um Joyce possa parecer uma ruptura enorme e definitiva com a tradição. Ora, a primeira reconciliação joyciana com a tradição vem com seu livro de contos de recorte nitidamente realista, a segunda com a introdução no Retrato do artista quando jovem das questões ocidentais da cristandade e, por fim, o seu Ulisses é paródico com a obra emblemática do início da literatura e da cultura ocidental: A Odisséia, de Homero. Caso não se queira aprofundar e ver outras tradições: a língua irlandesa, a história da Irlanda, a apropriação que faz da técnica do stream of consciousness bebida em Édouard Dujardin, dos jogos de palavras de Sterne e Lewis Carroll. Kafka, por sua vez, é devedor de uma literatura do fantástico do século XIX, do estranho, do maravilhoso de todos os tempos desde Homero e As mil e uma noites, da literatura gótica e, também entre outros, do absurdo de Jarry, de Nerval e outros. E, no nosso caso, Proust pertence à grande família dos intimistas, solipsistas, introspectivos de todos os tempos, seja o romance epistolar de Relações Perigosas, de Laclos, seja o Madame Bovary, que abre espaço para a perquirição não só da intimidade doméstica, mas também da mente humana.
Mesmo sabendo a importância de outras vanguardas do século XX como Virginia Woolf, Faulkner (que pertence à linhagem de Joyce), e muitos outros mais, decidimos ficar com os três escritores mencionados acima como pilares também porque se mostram como exemplos de escritura unindo o tradicional com a renovação e, mais ainda, apontando para um futuro literário. James Joyce, com seu Finnegans Wake, poderia levar a literatura ao silêncio ou a um beco sem saída, onde o romance ou a prosa se diluísse num hermetismo tamanho que, junto a uma experimentação desabrida, conduziria a uma encruzilhada sem leitor. Mas o Joyce que permanece e que impulsionou seus seguidores estão mais próximos do Ulisses que do Finnegans Wake. Por sua vez, Kafka tem importância visceral ao apontar o absurdo na burocracia, na justiça, nas relações sociais e até mesmo na perplexidade frente à vida. O fantástico em Kafka é o fantasma do cotidiano e das relações sociais (e de poder) elevados à categoria de trama da prosa. O certo é que todos eles refletem uma reação ao mundo mecanizado e massificado, como observou Zéraffa. Não mais a massa operária de Zola, não mais o épico de Tolstoi. Agora a saga e o mundo público é o espaço do íntimo, do privado, do particular. E nesta estrutura tripartite vem se incorporar Marcel Proust com suas preocupações sobre o Tempo e a Memória agindo sobre o indivíduo.
Os três pilares vão gerar segmentos distintos na história da modernidade literária do século XX. Dos epígonos de Joyce, criados a partir da aporia e antinomia de Finnegans Wake, não se pode dizer que foi produzido efeito mais permanente a não ser nas vanguardas que aceleraram o processo de descontinuidade da sintaxe da prosa. Mas, Joyce legou a várias gerações o seu stream of consciousness, o jogo de palavras, a fragmentação e o uso de diversos discursos narrativos, a paródia corrosiva, a ironia das mais ácidas. Os “herdeiros” joycianos são inúmeros em todas as literaturas (desde o cubano Cabrera Infante até o nosso Guimarães Rosa, entre uma lista imensa a ser enumerada). Vindo de Kafka, os seguidores apreenderam o mundo do absurdo e o absurdo do mundo transfigurados em prosa que aqui e ali tomaram vários nomes, entre eles, o tão divulgado realismo mágico ou o universo desconcertante de narradores de diversas estirpes.
E quanto a Proust? Embora alguns poucos críticos de Proust o tenham visto como o último dos grandes romancistas do séc. XIX, o autor de Em busca do tempo perdido produziu uma obra que fermentou enorme gama de escritores que dele beberam sua contribuição fundamental para a modernidade literária. A fim de que se entenda o que foi herdado, será preciso inicialmente compreender Proust.
Em busca do tempo perdido poderia parecer ao leitor médio um romance sobre a frivolidade da aristocracia francesa. Ora, o que interessaria ao leitor desatento o enredo escasso, os encontros entre nobres, as intrigas de princesas, marquesas e membros da alta burguesia refinada, numa época já de grandes avanços no pensamento social como, entre outros, o marxismo e as expressões romanescas, na França e fora dela, que tratavam da classe média e da classe operária? Que interesse haveria naquilo que o próprio Proust chamou de memória involuntária, não consciente, que afloraria quando menos se espera? Ou nos seus avanços e recuos e sua construção em forma de catedral?
Com seu estilo lento, de longuíssimas frases, de sintaxe ordenada, Proust poderia parecer superado pelos seus outros dois companheiros, Joyce e Kafka, se não alertasse o leitor para uma literatura que preza o detalhe, a angústia de estar no mundo, a perspicácia de debruçar-se sobre o tempo com a delicadeza de romancista e a inquietação de filósofo. Num tempo de mudanças bruscas e vertiginosas, Proust vem nos mostrar que a natureza humana constrói-se aos poucos e que as exterioridades patéticas apenas projetam o mecanismo tosco do reino animal ao qual pertencemos.
Proust erige um humanismo particular, não da forma convencional como conhecemos, nem mesmo na espécie de gnose do ser (falsamente confundida com um projeto de autoconhecimento). O humanismo proustiano é a consciência de uma individualidade contra a massificação (a vanguarda européia era uma renúncia ao mundo da série que, surpreendentemente, ela enaltecia, quando, no fundo, rejeitava-o), do humanismo contra o Capital (a aristocracia é um refúgio do eu – expressão muito usada por ele – contra as relações mercantilizadas).
Outro procedimento que o insere como um dos pais da modernidade é o uso sistemático e premeditado da digressão. A digressão é seu grande potencial e o diferencia da literatura realista que execrava justamente a incômoda interferência do narrador. Proust não a inventou, certamente. Um dos grandes mestres da digressão no passado fora Fielding, com seu Tom Jones, onde deixava a trama para inserir longos comentários. Esta atitude estética de Proust é mais que um mecanismo estilístico: aponta para o romance como um ato de inteligência, uma epistemologia. Proust agora quer reflexão, num mundo perdido em banalidades e cada vez mais assombrado pelo fantasma das aparências.
Proust tornou o que era periférico em centro: a digressão passou a ser a “trama”. A trama rarefeita é proposital: o mundo agitado agora é de dentro do narrador. A lentidão narrativa aliada às poucas ações é uma recusa ao romance facilmente digerido. O freio nas peripécias representa que elas agora pertencem ao reino da massificação que cumprem até mesmo melhor a proposta. O romance cresce em robustez e profundidade que outras artes narrativas não podem oferecer.
A crítica sobre Proust estudou, entre outros aspectos, alguns dos seus procedimentos como o impressionismo (a tentação de unir vida e obra seduz vários críticos) e seu relativismo (Edmund Wilson), a durée, as digressões de contiguïté e de resssemblance (Bayard, em Le hors-sujet), as metáforas baseadas em pintura e música, a análise não do passado, mas da memória (Jean-François Revel), o discurso indireto que “conserta a linguagem comum, os defeitos da linguagem” (Genette), as diferentes camadas temporais (Poulet), a narração como ato de leitura (Paul de Man), a crítica social do esnobe (Benjamin), o efeito do patético (Barthes) e a biografia literária (Citati).
Confrontado com o futuro mesmo do romance francês dos anos 50 (o nouveau-roman), Proust poderia parecer prolixo e não ser tudo aquilo que a vanguarda do meio do século pregava: impessoalidade, limpeza, literatura do distante e do olhar. Pura aparência: Proust contaminava o nouveau-roman que, apesar da retórica do seu teórico Robbe-Grillet, era uma literatura subjetiva e obsessiva. Obsessiva como Proust em relação à mirada dada a seu objeto de estudo: o homem. Leia-se, por exemplo, O Bonde, de Claude Simon, para perceber o andar circular, o mesmo objeto reiterativo, a longa digressão, a propensão à análise do ensaio. Aquilo que poderia parecer retórica excessiva é em Proust uma atitude perante o mundo: a reiteração, a circularidade, o espaço sufocante.
Homossexual, “doente dos nervos”, edipiano, Proust foi um dos defensores mais ardorosos da divisão entre autor e narrador. Para ele, ao contrário de Saint-Beuve, que advogava o estudo da biografia do autor para entendimento da obra, o self do autor não é o mesmo da figura ficcional do narrador. Dos três mitos da modernidade literária, Proust é o mais palatável e que faz com mais suavidade a passagem do romance do séc. XIX para a vanguarda do séc. XX, além de poder ser lido sem dificuldade pelo leitor médio, o que não ocorre com Kafka nem com Joyce. O poder de transgressão de Proust é mais sutil e menos explícito, embora o leitor médio logo perceba que está diante de uma obra que ele estilisticamente não se defronta de forma recorrente.
Proust ainda é contemporâneo, em termos de escrita e de leitura, em virtude da inanição da trama, dos personagens aprisionados no filtro do narrador, personagens estes que fulgem brilhantemente para depois desaparecer ou ocupar um canto obscuro, ou ainda em razão do tema da perversão – tudo atualiza Proust. É ainda pertinente a invocação do ensaio (variante da digressão) que Proust não inaugura, mas utiliza-o de maneira magistral como na visita ao pintor, em Balbec, onde expõe sua concepção de pintura depois do aparecimento da fotografia. E mais ainda: Proust coloca em cena o narrador como personagem, não o narrador memorialista, mas aquele que cria a dilatação do eu, expande-a e, com a escrita, abarca mundos nunca antes narrados.
Em meio a esta prosa deliquescente e voluptuosa, Proust faz o elogio da razão. O texto é organizado e lúcido – crítico mesmo – até nos poucos relatos de sonho. O mundo de Proust poderá ser anunciado como impressionista ou qualquer termo que se queira dar a partir da subjetividade, mas não se há de negar a necessidade de análise, inclusive do obscuro inconsciente e do momento fugidio – grande corruptor que só é apreendido pela precisa consciência. Proust é o escritor não de um mundo em transformação, mas de um mundo em transformação cuja mente quer fixá-lo em sua beleza. A Beleza é outro grande tema, junto com os já relatados. Viver representa conscientizar-se da Beleza da emoção, do esquivo, da surpresa, do pasmo frente ao desconhecido, da arte e da cultura como ninhos da verdade, do romance como refutação da mesquinhez, do transitório e da impossibilidade de apreender o movimento que, em última instância, é a vida.
Em Proust, há uma falência da linguagem, apesar da flânerie do verbo contida em mais de 3 mil páginas. Nomear é muito pouco para resgatar ou mimetizar a realidade. É preciso reconstruir também através da linguagem, por isso as metáforas desconcertantes e desdobradas (longas, aproximando o prosaico do sublime e vice-versa), quando o autor cria a realidade da linguagem, onde nada se perde. E nós, leitores, passamos a fazer parte deste espectro que, em si mesmo, é um universo que não se basta, mas nos faz imergir na existência de um mundo de pensamentos que, ao fim e ao cabo, é a realidade última do leitor. Para nós, leitores, ler Proust não é tempo perdido, mas tempo recuperado. (RCF)
(box)
Marcel Proust (1871-1922) escreveu, durante 15 anos (1908-1922) basicamente um só livro, Em busca do tempo perdido, dividido em sete volumes (No caminho de Swann, À sombra das moças em flor, O caminho de Guermantes, Sodoma e Gomorra, A prisioneira, A fugitiva e O tempo recuperado). Antes, estreou com um livro de miscelâneas (contos, crônicas, poemas em prosa) intitulado Os prazeres e os dias (1896). Os outros dois livros são Jean Santeuil e Contra Saint-Beuve, ambos inacabados e só publicados na década de 50. Várias cenas desses livros foram reproduzidas em Em busca. O último volume de À procura, O tempo recuperado, publicado postumamente, Proust o deixou sem revisão, o que demandou “reconstruir” o livro. (RCF)
imagem retirada da internet: pintura degas, proust



