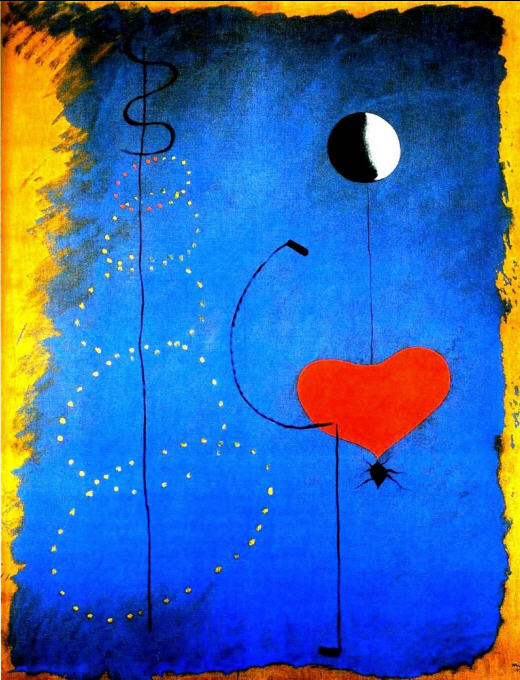“Não é fácil contar. É como se eu quisesse falar sobre o nada. Acho que na vida só podemos contar algumas coisas... quero dizer, na vida mais simples, cotidiana. Porque, você sabe, existem pessoas que não vivem apenas no dia-a-dia, mas também de outro modo, numa realidade diferente... Elas talvez consigam falar sobre nada com o mesmo interesse que desperta uma história policial.” Esse é um trecho do romance De verdade, de Sándor Márai.
Márai (1900-1989) escreveu várias narrativas e deixou também uma autobiografia intitulada Confissões de um burguês, que chega a ser tão sedutora e “ficcional” como toda sua obra. Famoso na Hungria nos anos 30 e 40, Márai, em 1948, foge do domínio soviético-stalinista da Hungria. Cai no limbo do esquecimento. Mais tarde, fixa residência no EUA. Em 1989, em San Diego, onde se recolhera, suicida-se com um tiro na cabeça. Esse fênix húngaro retorna com força total, mostrando uma literatura sombria, perversa e irônica. Sándor não desonra a tradição do anarquismo literário de autores de países próximos como o franco-romeno Ionesco ou mesmo o polonês Gombrowicz.
De verdade é um romance que trabalha com quatro vozes narrativas. A esposa, o marido, a amante e o amante da amante. Todos contam um casamento falido a partir de suas próprias vivências. Em verdade apresenta não apenas quatro versões do mesmo fato, repertório já utilizado antes mesmo da década de quarenta do século XX, mas enfatiza a suspeição de que os fatos não podem ser apreendidos a não ser em sua limitada existência por intermédio das experiências e da memória individual.
Há na literatura do século XX um expediente que não é novo, mas foi levado às últimas conseqüências: a digressão. Proust a faz sua grande personagem e trama. Em Sándor Márai, a digressão não chega a ser proustiana, mas existe o gosto de contar e o gozo da palavra, porque, ao fim e ao cabo, a literatura não passa de um fruir da palavra escrita. Márai abusa, no bom sentido, da sedução da palavra. Não há muito para contar, não há uma história fabulosa, surpresas inesperadas, turnings points de tirar o fôlego. Já disse em outro artigo, que tais elementos a comunicação de massa os cumpre muito bem. A boa literatura pode ou não utilizar-se desses elementos. Mas pode sobreviver sem eles e, pelo contrário, construir trama com mínimos traços e ser bastante eloquente. De verdade é um grande romance, em que a palavra é o personagem principal. A estesia que os bons leitores sentem com um bom narrar – não propriamente boa história, pirotécnica, cheia de tramas intrincadas – é o que faz em verdade um romance genial. O que nos leva a crer que, entre outras definições do ato de ler, uma delas é a capacidade do leitor de sofrer o que classifico aqui, com inteira irresponsabilidade terminológica, de “síndrome de Sherazade”, ou seja, ser embalado pela palavra que fascina.
Mesmo sendo prosa realista, o humor de Márai beira o absurdo. Afasta-se do psicologismo e da ridicularização da condição do burguês e penetra num mundo desconcertante. Nas duas últimas partes, a ironia está próxima do nonsense. Serve de exemplo a descrição do cotidiano de uma Budapeste arrasada pelo bombardeio dos aliados, pelos nazistas e, logo depois, pelo exército stalinista dito salvador. Entende-se então o silêncio feito em torno de seu nome durante o período comunista da Hungria.
Nos dois primeiros discursos e parte do terceiro (ou seja, da esposa, do marido e da empregada) existem considerações sobre o que são e representam o amor, o casamento, a solidão, a condição burguesa, a mecanização dos atos humanos, o sem-sentido dos atos. O quarto discurso é feito por um baterista, já nos EUA. É a parte mais recente do livro, cinqüenta páginas escritas em 1979. O ritmo é curioso e a linguagem mistura com ironia o inglês e modo de vida americano. O baterista conta sua fuga do regime comunista da Hungria. Mas não o narra de forma dramática ou triste. Conta em tom de farsa. O que encanta em Sándor Márai de Em verdade é sua capacidade de extrair de uma situação normal um drama entre satírico, burlesco, fantástico e alucinatório quando tudo não passa de situações absolutamente corriqueiras e realistas. Ganham a humanidade e a cultura toda vez que a crítica e os leitores recuperam um autor genial como Sándor Márai.