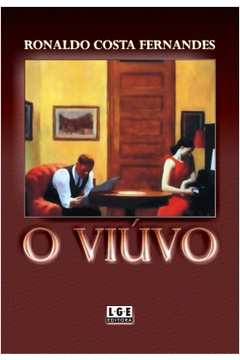
Dizem que o
verdadeiro luto se carrega no coração. Mas o viúvo de que vamos falar
carregava-o nas costas, como se carregasse as dores do mundo, ou um enorme
peixe. Ou a pedra de Sísifo. Esse viúvo, sem nome, pois não o diz, é um
intelectual refinado, professor universitário, solitário e angustiado.
Esquisitão. É a personagem que dá título ao romance O viúvo, (Brasília: Ed. LGE, 2005), de Ronaldo Costa Fernandes.
Ronaldo
trabalhou a personagem com esmero. Fez o leitor vê-la, como num raio X, por
dentro de seus complexos e conturbados pensamentos de um ser pensante e
estoico, que leva o fardo da vida sem esperança nem indignação.
Existencialista, beirando a indiferença, tenta retomar a vida após longo
período de luto, em que cumpriu tristeza, e a rotina de trabalho como professor
universitário, literato, no sentido forte da palavra, que foi despertado um dia
pelo desejo de uma mulher que o abordou no estacionamento, à noite, em lugar
mal iluminado e perigoso, como que o resgatando de sua noite escura. Seguiu a
moça-aluna de blusa de seda. E retomou o gosto pelo amor, pelo corpo, já meio cansado
de desejar. E deu-se nova chance, na mesma casa velha, com cheiros de passado,
e a mesma velha empregada D. Benedita, quase um estorvo. E as duas mulheres, a
morta e a viva disputavam a casa de maneira desigual, pois a morta, Lídia,
falava através das cadeiras e de tudo o que havia tocado, deixando Fernanda, a
viva, sem ter como revidar, pois “os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas
de vencer”, como vimos em Mário de Andrade.
E o viúvo
sonhava muito. Os sonhos, na verdade pesadelos, não o abandonavam. São imagens
tremendas que revelam uma tendência à dissociação psíquica de dissolução do eu:
“Não sou mais eu, sou vários e não sou ninguém (...). Tenho
também várias cabeças, a que pensa, a que mandam pensar o que a máquina pensa,
o que pensa os outros, o que pensa o que pensa que pensa independente do que
pensam as pessoas que pensam pelos que não pensam.” (Pág. 22)
Ou ainda: “Lídia me fazia sentir boneco de pano, minhas
vísceras eram de pano, serragem, se me abrissem, pulariam para fora restos de
panos, aniagem e pó”. (Pág. 33) Algo próximo da clivagem, responsável pela
entrada do sujeito na psicose, segundo a psicanálise. As imagens que o
perturbam vão de coisas tornadas mínimas, liliputianas, como ele diz, até as agigantadas,
elefantizadas. Nesses sonhos, o viúvo vê-se tragado pela casa que está prestes
a ruir. Tudo muito simbólico e revelador de seu estado emocional e psíquico. A
casa aqui não é só uma casa, é todo o universo em torno do qual ele gira; é o
imaginário que o invade: “Quando acontecem as rachaduras é um pouco do
intestino também das paredes que quer sair para fora.” (Pág. 15), ou a casa é
que é invadida por suas ruminações, e treme, e deixa as “paredes insones” e até
dá voz à pia da cozinha, que ele detesta. Tudo está em carne viva, como nos
quadros de Soutine. A casa é a caixa de ressonância, é o espaço mais que
físico, é a extensão de seu corpo, e também o contrário: o seu corpo era um
mero apêndice que poderia ser expulso a qualquer hora “como um organismo vivo
expulsa o que lhe é estranho”. (Pág. 27) Yin-Yang.
Mas o que o
distingue é a consciência da própria loucura. Não a dos doidos de pedra, mas os
da pequena loucura, da dose diária de sandice de todos nós. Diz ele:
“se as pessoas são como eu, elas terão sua dose de loucura
escondida, fechada, como se leva dinheiro avulso e não se quer perder e então
aperta o velcro ou fecha o zíper do calção. A pequena loucura, mesmo que seja
pequena, não se expõe socialmente, vive aprisionada, principalmente em forma de
desejo ou pensamento proibido que surge repentino sem que se puxe por ele. Um
desejo molesta a gente, chega em hora imprópria.” (Pág. 19).
O sentimento desse viúvo, que se
repudia por ter traído Lídia já no leito de morte, bem como o sujeito decente
que ele pensa ser, tem a sua origem no conflito entre o desejo e a Lei; entre o
“eu quero” x “eu não posso”, fonte de toda neurose, ensina Freud. E não podemos
esquecer que ele não teve infância, e que assistiu ao enterro do pai. Infância
recalcada pelo adulto: “Minha infância não tem rosto.” (Pág. 44) E, por ser
recalcada, volta a incomodar, insistindo em se presentificar “de forma fantasmagórica,
seja em sonho ou em imagens díspares e bizarras, cujo significado desconheço e
temo” (Pág. 44), diz ele. Do menino triste fez-se o homem solitário, naquela
solidão noturna dos viúvos, como diz a canção de Alceu Valença.
Se
quiséssemos dar uma imagem para o mundo desse homem sofrido seria algo como a
“Guernica” de Picasso que, à parte a historicidade, revela um mundo fragmentado
em que pés tortos, mãos trêmulas, pernas independentes, cabeças, braços, numa
dança macabra habitam a sua mente. Até as mãos, que um dia precisou enfaixar,
gesticulam e pensam por si mesmas. Um mundo de partes desconexas,
antimetonímicas, que não falam pelo todo. Um homem aos pedaços tentando se
integrar. Trabalha sem alegria na universidade, embora sua paixão verdadeira
sejam os livros, a literatura, esta que atraiu Fernanda, a mulher dos números,
mas também unidos doravante pela palavra. (Palavra que ele perdeu quando entrou
em coma, destituindo-o do lugar da fala, de ser falante.) Palavra que também o
humilha por fazê-lo escravo dos outros, do pensamento alheio. Sente-se incapaz
de ter pensamento próprio, e isso também o mata, Angustia-se, sente-se uma
fraude. Temos aqui o que Winnicott chamou de “falso self”: o sujeito que
desenvolve uma segunda personalidade para ocultar a primeira, ocultar
justamente para protegê-la da fragmentação do eu – nosso tudo. Vejamos o que diz o viúvo:
“Algo em mim diz que faço tramoia, que engano os alunos, que
me faço passar por professor quando nunca fui professor. Não me reconheço em
sala de aula, não me reconheço naqueles corredores.” (Pá. 83)
E, como um camaleão, funde-se com o ambiente. Trata-se da
dependência e servidão a que o ser humano está condenado, diz Lacan. Sente-se
aprisionado pela universidade onde até as janelas conspiram contra ele, pondo também
o pé na paranoia. É um corpo estranho para si próprio. Corpo que tem papel
crucial no romance, como peça-chave do estranhamento que perpassa o texto.
Assim como tem
presença na casa mesmo depois de morta e tem presença-ausência no corpo das
mulheres que ele conhece, Lídia tem presença na narrativa, não linear,
lembrando ao leitor que ela está viva na lembrança (ambivalente) do marido,
este, sim, já meio morto. São dois tempos que se justapõem, que se alternam em
ondas no fluxo da consciência, numa narração precisa, em que uma onda arrasta
outra atrás de si, dando impulso, fôlego a esse romance intimista, sofisticado,
diga-se, extraordinário.
Mas não
poderíamos encerrar sem voltarmos a D. Benedita, a empregada da casa, sim, da
casa, e não mais do viúvo, pois a sua função nesse espaço cresce na estória
enquanto a dele diminui em importância. O prato da balança pesou mais para o
lado dela. Por quê? Porque, assim como as plantas endoidecidas tomaram conta do
jardim após o desaparecimento do jardineiro, D. Benedita, surda como uma porta,
toma conta da casa da patroa sem ouvir o patrão. Percebe, de alguma maneira, o
definhamento do professor que, tomado, talvez, pela pulsão de morte (Freud),
vai cedendo lugar de mando a ela. Como as ervas daninhas do jardim, e numa
perfeita simbiose com a casa, seu espaço de existência, ela embruteceu, criou
raízes e espinhos. E o viúvo, que se fingia de vivo enquanto fazia palestras na
universidade, agora pode fingir-se de morto na casa, que é seu “bicho
hospedeiro”, e ele, “o verme que dele se alimenta”. (Pág. 150)
E, dessa
forma, regredido, buscando a condição de verme, ou quem sabe ainda a anterior a
esta, a inorgânica, cumprindo o ideal da pulsão de morte, encontre ele a paz
verdadeira, o Nirvana.
28.06.2020 (Jornal de Fato, Mossoró)




Nenhum comentário:
Postar um comentário